Um “recto” silêncio e a epopeia esquecida dos professores
Mês passado fez cento e dezesseis anos do nascimento do ensino profissionalizante no Brasil – uma data que passou despercebida, como se o país tivesse vergonha de sua própria história.
Foi em 23 de setembro de 1909, sob o governo de Nilo Peçanha, que o Brasil deu um salto civilizatório: criaram-se as Escolas de Aprendizes Artífices, as sementes daquilo que hoje conhecemos como Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Centros Federais de Educação Tecnológica e as Universidades Tecnológicas.
Nilo Peçanha – mestiço, fluminense, homem do povo – foi o primeiro Presidente da República de origem popular. Assumiu o poder após a morte de Afonso Pena, o mineiro solene e apagado. E o que fez? Criou escolas para pobres, para os que o Brasil sempre empurrou para o beco da ignorância. Um escândalo! Em 1909, ensinar um ofício a um menino pobre era mais subversivo do que pregar o comunismo. O Presidente, filho de padeiro, teve a ousadia de imaginar que o operário também podia pensar, que o aprendiz podia criar, que o trabalhador podia sonhar.
Pois ali, nas modestas Escolas de Aprendizes Artífices, nascia um Brasil que queria produzir, estudar, fabricar e – vejam só – pensar. Começaram com 19 unidades, espalhadas pelo país. Desde então, nunca, em tempo algum, o número de vagas parou de crescer. O ensino profissional nasceu pequeno, mas com vocação de gigante. Cresceu na Primeira República, resistiu às crises da Era Vargas, soprou brasas no Estado Novo, sobreviveu à ditadura, à redemocratização e às modas pedagógicas que vinham de Paris e dos Estados Unidos.
A cada década, o país achava que iria acabar, e lá estavam elas, as velhas escolas técnicas, abrindo mais vagas, remendando as paredes, ensinando mecânica, marcenaria, tipografia, eletricidade e, sobretudo, esperança. Nos anos 1930 e 1940, o Estado começou a ver nelas algo útil: mão-de-obra disciplinada, barata e eficiente. Era a fase do “Brasil que se industrializa”, e Getúlio Vargas, o pai dos pobres e das carteiras de trabalho, entendeu que o metalúrgico precisava de uma escola, ainda que fosse para apertar parafuso com mais competência.
Depois vieram os Liceus Industriais, os Colégios Técnicos, os Escolas Técnicas Federais. Mudava o nome, mas a alma era a mesma: a do estudante pobre que via no diploma uma forma de desafiar o destino.
Nos anos 1950 e 1960, o país de JK quis correr cinquenta anos em cinco, e as escolas correram junto: abriram cursos de eletrônica, de edificações, de química, de agrimensura. Cada nova indústria que surgia pedia mais vagas, e elas vinham. Cresciam como mato.
Durante o regime militar, os generais descobriram que era bonito falar em “tecnologia nacional”. Assim, multiplicaram os prédios e laboratórios, mas também transformaram o ensino técnico num curral de mão-de-obra obediente. Queriam operários que pensassem apenas o necessário para cumprir ordens. Ainda assim, dentro das oficinas, os professores resistiam. Não com metralhadoras, mas com giz e paciência. Ensinar, em tempos de silêncio, foi um ato de heroísmo.
Nos anos 1980 e 1990, o Brasil entrou em crise. Inflação, recessão, desilusão foram o tripé negativo de um país que um diz quis ser potência. Muitos ministérios caíram em desgraça, mas as escolas técnicas continuaram de pé. E, como se zombassem da própria miséria, continuaram abrindo vagas. Um milagre laico, repetido em oficinas com teto de zinco e bibliotecas de duas estantes.
O grande salto institucional viria em 2008, quando o governo federal unificou escolas e centros em uma nova criatura administrativa: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A ideia era criar autarquias multicampi, com autonomia e capilaridade, oferecendo do ensino médio à pós-graduação. O Brasil passou a ter, de norte a sul, um sistema federal de educação tecnológica com centenas de campi e dezenas de milhares de professores.
É claro, os arautos do poder logo se apoderaram da narrativa. De repente, o ensino técnico tinha dono, e o dono tinha partido. Houve quem dissesse que a Rede Federal nasceu em 2008, como se Nilo Peçanha fosse um figurante na história. Nada mais típico do Brasil: apagar o passado para exaltar a própria foto na faixa inaugural. Mas a verdade é que o crescimento das vagas sempre foi uma constante. Desde 1909, o ensino profissional brasileiro nunca parou de expandir-se – na República Velha, no Estado Novo, sob os generais e sob os democratas. Foi uma saga sem heróis oficiais, sustentada por professores anônimos e alunos que viam no torno mecânico um caminho para a liberdade.
Entre 2003 e 2016, é fato, o número de campi multiplicou-se; de pouco mais de cem para mais de seiscentos. O país interiorizou o ensino técnico. Cidades que só conheciam a escola agrícola e o bar da esquina ganharam campi modernos, laboratórios, salas climatizadas, cursos de engenharia e licenciatura. Foi um período de ouro. Mas não começou ali, foi o prolongamento de uma história centenária.
E no Rio Grande do Norte, essa epopeia tem um nome que pesa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), herdeiro direto da Escola de Aprendizes Artífices do estado.
O IFRN é hoje referência na Rede Federal de Educação Tecnológica. Formou gerações de técnicos, engenheiros, professores e artistas. Transformou vidas, regiões inteiras. Cada novo campus aberto – de Natal a Pau dos Ferros, de Currais Novos a Ipanguaçu – foi um ato de fé no futuro. E, a cada expansão, vieram novos alunos, novas vagas, novos sonhos.
Mas eis que chega o 15 de outubro de 2025, o dia do professor, e o que faz a gestão do IFRN? Faz silêncio. Um silêncio sepulcral. Nada de homenagens, nada de flores, nada de reconhecimento. No máximo uma mensagem burocrática, fria, digital, um e-mail institucional ou algo do tipo; o túmulo eletrônico da gratidão.
O “silêncio” da Reitoria é como se escrevesse um bilhete de pêsames para celebrar um aniversário – e ainda assim o responsável por entregá-lo esquecesse. Diz muito sobre o respeito que a gestão central da instituição tem pelos docentes.
E pensar que foram os professores – os verdadeiros heróis dessa história – que mantiveram viva a chama acesa desde Nilo Peçanha. São eles que, entre greves e cortes orçamentários, continuam ensinando jovens, alguns que nunca tiveram nada. São eles que transformam sucata em experiência didática, laboratório precário em cátedra de invenção. São eles que, mesmo com o contracheque depenado, instrumentos de controle que se sobrepõem (PITs e RITs e ponto eletrônico), ainda acreditam que o conhecimento é uma forma de salvação.
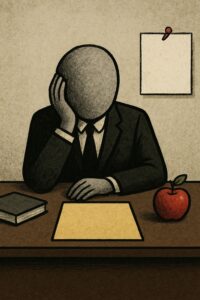
Imagem feita com auxílio de IA
O esquecimento do IFRN neste dia é mais que um descuido – é um sintoma. O sintoma de uma burocracia que perdeu o senso da própria origem. Celebrar o dia do professor com o silêncio é como comemorar o centenário de Nilo Peçanha com um post de powerpoint. Não chega nem a ser o triunfo do protocolo sobre a memória, do carimbo sobre a consciência.
O que Nilo Peçanha imaginou em 1909 era simples e grandioso: escolas para o povo. O que temos hoje é uma rede gigantesca, viva, pulsante, espalhada pelo Brasil inteiro, mas, paradoxalmente, incapaz de olhar para dentro e reconhecer seus próprios mestres.
E se o velho Nilo voltasse à vida e perguntasse: “O que fizeram de minha obra?”, talvez lhe mostrassem um banner digital, com logotipo, slogan e QR Code ou o reitor (assim mesmo com minúsculas) pulando num palco armado num shopping center, porque ali está sendo organizado um evento acadêmico da instituição. É pão, é circo, é ciemssa. Ele, Nilo, suspiraria, cansado, e diria o que todos os professores já sabem: que o Brasil, com sua eterna vocação para o atraso e o esquecimento, é capaz de construir impérios e não acender uma vela.
O ensino profissional brasileiro nasceu em 1909 e nunca parou de crescer. Cresceu em prédios, em vagas, em sonhos. Cresceu na força dos docentes, no suor dos alunos, na teimosia das oficinas e de abnegados profissionais que deram retaguarda para o trabalho de sala de aula. Cresceu apesar dos governos, e não por causa deles. E enquanto os gestores se esquecem do dia do professor, as salas de aula continuam abertas, os quadros continuam riscados, e os mestres continuam ali – heroicos e anacrônicos – sustentando, com a tinta dos pinceis e a palavra obstinada, a obra de Nilo Peçanha.
Em tempo: para não dizerem que sou injusto, registro que o campus Natal Central fez um vídeo com o professor Antônio Roberto, aposentado, enaltecendo o dia dos professores e um material de arquivo organizado por Arilene Lucena sobre ex-professores.