Brasil: Estado do Despautério – 2
O Brasil do serviço público tem uma obsessão que beira a patologia: a fome insaciável por cargos comissionados e funções gratificadas. Não é uma forme nova, não é passageira, não é fruto de um momento de crise ou de uma conjuntura política azarada. É a essência do Estado brasileiro desde que Cabral avistou o Monte Pascoal e rezou uma missa na praia, e o escrivão da esquadra, o indefectível Pero Vaz de Caminha, aproveitou a carta enviada ao rei D. Manuel, o Venturoso, para pedir a ventura de um carguinho para o seu sobrinho. Ali o Brasil já nascia de joelhos diante do favor e de olhos arregalados para a boquinha.
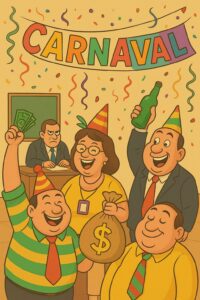
Imagem feita com auxílio de IA
Parece que somos um povo incapaz de distinguir o público do privado, como discorreu Sérgio Buarque de Hollanda. O seu brasileiro cordial não vê diferença entre o tesouro nacional e o cofre da família. É o mesmo dinheiro, a mesma coisa, e se o Estado tem, o Estado deve.
A coisa ganhou contornos oficiais no século XXI, mas a alma é a mesma dos tempos coloniais.
A Portaria nº 34, de 18 de agosto de 2025, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, em sua prosa plúmbea, designou “servidores para compor o Grupo de Trabalho (GT) para elaboração e apresentação de proposta de atualização da Portaria MEC nº 713, de 8 de setembro de 2021, que estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e Colégio Pedro II”. Tudo muito bonito, muito republicano, muito técnico. Na prática? Distribuição de cargos e funções para alojar aliados políticos e, de quebra, calar os insatisfeitos que não foram convidados para o banquete. No fim, é sempre o mesmo: um pedaço de bolo para uns, uma função gratificada para outros, e silêncio absoluto para quem está na fila do lanchinho oficial.

A cena repete-se no Brasil, para recordar o profeta da esperança caótica, como tragédia e farsa. Não há nada mais brasileiro do que um servidor com o olhar faiscando diante da possibilidade de um cargo comissionado/função gratificada. É como se, naquele instante, a pátria se revelasse em toda a sua nudez: o sujeito já não pensa em sala de aula, laboratório ou pesquisa; pensa apenas no contracheque turbinado. E não adianta o reitor ou o diretor subir à tribuna para difundir defender o interesse público. É só mais uma demagogiazinha. No fundo, a lógica é a mesma que impera em qualquer repartição brasileira desde que D. João, em 1808, desembarcou com sua corte e fundou aqui um Estado patrimonialista de dimensões colossais: Estado como extensão da casa-grande, Estado como fazenda de família.
Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, já havia diagnosticado esse câncer de alma. O homem cordial é justamente aquele que não concebe a esfera pública. Tudo é pessoal, tudo é doméstico, tudo se decide no compadrio. A cordialidade não é gentileza, mas a ausência de fronteiras. Por isso o servidor público brasileiro não se sente envergonhado em disputar com unhas e dentes um carguinho, pois ele está apenas buscando, no Estado, aquilo que todo bom pai de família busca para os seus – um melhor quinhão, conforme expõe, de forma ainda mais impiedosa, Raymundo Faoro no seu Os Donos do Poder. Para ele, o Estado brasileiro é obra do estamento burocrático, uma casta que herdou do patrimonialismo português a convicção de que administrar o público é, na verdade, usufruir do público. Quem tem cargo não administra, desfruta. Não governa, usufrui. O comissionado não é servidor, mas beneficiário. N’A Construção da Ordem, José Murilo de Carvalho mostrou que o Império brasileiro organizou-se em cima dessa burocracia de favor. O cargo não era ocupado por mérito, mas distribuído como retribuição de lealdade. O funcionário público era, antes de tudo, cliente de alguém.
Dois séculos depois, mudaram os nomes, mudaram os ministérios, mas não mudou a lógica: no fundo, continua sendo uma gigantesca feira de patronagem, fenômeno tão profundo que transcende a política formal. É cultural.
Roberto DaMatta, em seus estudos sobre o “jeitinho brasileiro”, ironizava, dizendo que aqui não há regra que resista a um amigo. Se há uma função gratificada, a pergunta não é “quem tem competência para exercê-la?”, mas “quem é meu aliado, meu compadre, meu subordinado fiel?”. E se a escolha gera indignação, sempre há a compensação: cria-se outra função, inventa-se mais um cargo, amplia-se o quadro. O Estado brasileiro é uma fábrica inesgotável de cargos como forma de gerir insatisfações.
Jessé Souza, por sua vez, tentou atualizar a crítica ao patrimonialismo, argumentando que a elite brasileira se apropria do Estado por meio de uma burocracia funcional que mantém privilégios históricos. Para ele, a lógica do favor e da gratificação não é resquício de um passado longínquo, mas o mecanismo contemporâneo pelo qual as classes dominantes asseguram sua hegemonia. Os cargos de confiança são, portanto, a materialização mais evidente dessa apropriação. Só esqueceu de dizer, o nobre Jessé, que os seus estão lá e fazem o mesmo que ele diz combater E Jessé silencia, mantendo a mesma crítica a uma abstração – a elite brasileira.
O que faz a turma que passu a vida batendo na elite brasileira? O mesmo que a elite brasileira passou a vida fazendo. Há sempre, porém, uma máscara cívica e usar. A portaria do Ministério da Educação vem revestida de linguagem burocrática, de jargão administrativo, de intenções pedagógicas. Tudo em nome do interesse público, da eficiência institucional, da modernização do ensino. É aquilo que Nélson Rodrigues chamava de a “máscara de decência” com que a vida pública brasileira esconde sua vocação para a indecência. Porque o que realmente está em jogo não é a educação, mas o loteamento das funções.
Se fosse só isso, ainda poderíamos rir. Mas o fenômeno tem efeitos devastadores. Primeiro, porque mina qualquer cultura de mérito dentro do serviço público. O professor que se mata de dar aula, o técnico que sustenta a instituição, o pesquisador que publica, todos esses veem-se alijados quando não têm acesso ao círculo do favor. Segundo, porque transforma a política educacional em feudos; cada cargo vira moeda, e a governabilidade se constrói à base de gratificações. Sérgio Abranches cunhou o termo “presidencialismo de coalizão” para explicar esse mecanismo em nível federal. O que não disse, mas poderia, é que esse presidencialismo se repete em escala microscópica nas universidades, nos institutos, nos colégios. Em terceiro lugar, a cultura da boquinha naturaliza a mediocridade. Porque a função gratificada não exige, em regra, competência extraordinária. Exige apenas lealdade. E a lealdade, no Brasil, é uma das commodities mais baratas e abundantes. No limite, vira chaleirismo. Todos são leais enquanto recebem sua parte do bolo. Quando não recebem, tornam-se oposicionistas inflamados, até serem novamente contemplados.
Maria Sylvia de Carvalho Franco, em Homens Livres na Ordem Escravocrata, mostrou como, no Brasil do século XIX, mesmo os homens livres pobres viviam na órbita do favor senhorial, dependendo de pequenos benefícios e cargos menores. A lógica da dependência vertical permanece viva. O servidor de hoje é herdeiro do agregado de ontem. Trocar a proteção do fazendeiro pela função gratificada do reitor/diretor não foi ruptura, mas continuidade.
E aqui está a tragédia maior: o brasileiro não consegue sequer conceber um Estado realmente público. A cada tentativa de reforma, de enxugamento, de racionalização, surge a histeria coletiva. Extinguir cargos? Reduzir gratificações? Isso é visto como atentado à vida civilizada! O servidor médio considera a gratificação não um extra, mas um direito natural, como o sol que nasce todo dia. Vou parafrasear Nelson Rodrigues: “Tirar uma função gratificada de um brasileiro é mais escandaloso do que lhe roubar a mulher”.
Um indício é a indignação ritual que se repete a cada mudança. Basta anunciar uma reestruturação administrativa para que se levante a grita: “Querem nos calar!”, “É ataque à educação!”, “É golpe contra a autonomia!”. Quando, na verdade, o que está em jogo é a manutenção do lanchinho oficial. Ninguém admite em público, mas todos sabem em privado. É o segredo de polichinelo da burocracia nacional.
O mais espantoso é que tudo isso é aceito com naturalidade. A sociedade brasileira, que deveria se revoltar contra o inchaço de cargos, resigna-se. No máximo, resmunga: “Ah, é assim mesmo, todo mundo quer uma boquinha”. Essa resignação é, talvez, a nossa pior condenação. Não só toleramos a promiscuidade entre público e privado; celebramos essa promiscuidade como se fosse traço de identidade nacional.
O brasileiro é cordial, como disse Sérgio Buarque de Hollada. Eu arriscaria dizer: o brasileiro é um devoto da boquinha. É capaz de passar fome, mas jamais recusa uma gratificação. Pode protestar contra a corrupção em praça pública, pode bradar contra os políticos em redes sociais, mas se lhe oferecerem um cargo em comissão, cala-se na hora, transforma-se no mais dócil dos cordeiros. Todos contra a corrupção abstrata, todos a favor da boquinha concreta.
E, assim, seguimos. O Estado brasileiro não é público, nunca foi. É o condomínio fechado de quem tem acesso ao poder. O resto é retórica. O discurso do interesse coletivo, da educação pública, da ciência, tudo isso é verniz. O que move, realmente, a engrenagem é a velha paixão nacional pelo cargo comissionado, pela função gratificada. Enquanto outros países se orgulham de seus monumentos, de suas guerras, de suas revoluções, nós nos orgulhamos de nossas portarias. Cada uma criando cargos, ampliando funções, distribuindo gratificações. O monumento brasileiro não é a estátua em praça pública, mas o contracheque com rubrica extra. A epopeia nacional não é a Independência ou a Abolição, mas a publicação no Diário Oficial que nomeia Fulano para cargo em comissão.
Podem rir. Mas é essa a verdade. E a verdade, no Brasil, é quase sempre pornográfica.