Como esquecer a ditadura de 64 – Parte 2
Nos últimos dias 31 de março e 1º de abril fez sessenta anos do golpe de Estado que apeou João Belchior Marques Goulart da Presidência da República, e sempre que a deposição do Presidente João Goulart vem à tona, a irracionalidade domina as discussões, mesmo nos meios acadêmicos e pretensamente acadêmicos.
Certa vez, em 2014, quando dos cinquenta anos do ocorrido, sugeri a uns colegas que poderíamos elaborar um simpósio, com palestras e mesas-redondas, sobre os antecedentes do golpe, sobre o golpe e sobre os vinte e um anos do regime autoritário, mas sem o ranço que domina as discussões acerca do ocorrido entre meados dos anos 1960 e meados dos anos 1980. Um dos colegas me olhou assustado, rebateu a proposta e disse-me que iriam nos chamar de revisionistas.
Para muitos professores com quem trabalho, grande parte mestres e doutores, qualquer um que estudar e apontar incongruências e inconsistências nas análises sobre esta quadra de nosso passado recente é revisionista ou extremista. Como não ligo a mínima sobre o que pensam de e sobre mim, excetuando a opinião de gente muito próxima e muito amiga, leio o que quero, escrevo o que penso e corro riscos todos os riscos inerentes a quem tem postura assim, até porque não discuto política pensando em partidos, mas em princípios. Repito o bardo inglês: “A minha consciência tem milhares de vozes, / E cada voz traz-me milhares de histórias, / E de cada história sou o vilão condenado”.
Talvez eu seja um revisionista ou mesmo extremista. Daqueles que lê Élio Gaspari, autor da obra mais completa sobre os vinte e um anos do regime nascido em 1964 e finalizado em 1985, Daniel Aarão Reis, acadêmico ligado ao movimento comunista e que consegue, na medida do possível, manter certa distância entre a vida política e a vida acadêmica, Jorge Ferreira e outros. Ando bem acompanhado, portanto.
Quando escrevi, em 2004, Aluízio Alves: populismo e modernização no Rio Grande do Norte, fui chamado de tudo quanto é nome, simplesmente porque, sem esquecer os erros do anglicano que governou o Rio Grande do Norte na primeira metade da década de 1960, apontei-o como, do ponto de vista administrativo, um divisor de águas na história do estado. As críticas saíram do campo acadêmico e entraram no campo pessoal. No campo acadêmico, houve muitas bem fundamentadas, as quais eu anotei para uma revisão futura da obra, que ora faço; outras, vazias e grosseiras, não merecem qualquer consideração. As pessoais, o silêncio misericordioso.
Aluízio Alves foi um apoiador de última hora do golpe, isso é fartamente conhecido – e será abordado num dos textos sobre o assunto que começo a escrever. O seu maior adversário, Dinarte Mariz, também foi. Um ou outro, do campo adversário do movimento, foi cooptado e tomou assento em secretarias estaduais, outros foram, redemocratizado o país, assessores de governadores e prefeitos egressos dos quadros do ditadura.
Foi assim no Rio Grande do Norte, foi assim no Brasil todo. Só as virgens de lupanares sentadas em gabinetes e em saletas escuras e úmidas e de frente para computadores e celulares de última geração insistem em posar de reservas morais.
O golpe militar de 1964 contou com o apoio de setores variados da sociedade, incluindo intelectuais e escritores, os quais, por motivações ideológicas, anticomunismo ou temor de instabilidade política legitimaram o regime em seus primeiros anos, apoio que muitas vezes se modificou com o tempo, especialmente após o endurecimento da ditadura a partir de 1968, com o AI-5, e a escalada da repressão. Também contou com o apoio de políticos e empresários, que fazem de conta que nunca estiveram do lado dos vencedores de então.
Nossos historiadores escrevem olhando para os umbigos deles e dos seus amigos, lembrando o que pode lhes enaltecer e esquecendo o que pode lhes trazer desconforto. Atacam a vida das pessoas e a história do país para construir a narrativa de sua conveniência.
Por isso, Carlos Lacerda e Magalhães Pinto e outros, pelo lados dos civis, e Castello Branco, Golberi do Couto e Silva e Ernesto Geisel e outros, pelo lados dos militares, são apresentados como golpistas nefastos, enquanto Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek e Paulo Evaristo Arns tornaram-se perseguidos pela ditadura e arautos da democracia, quando eles apoiaram o golpe que apeou João Goulart da Presidência da República e um ou outro tenha estado bem próximo aos golpistas.
Entre os intelectuais, Rachel de Queiroz, Luís da Câmara Cascudo, Gilberto Freyre e outros são expostos como defensores dos generais-ditadores, enquanto alguns outros, que também apoiaram o regime, como Ariano Suassuna, conforme já escrevi (https://historianosdetalhes.com.br/historia-do-brasil/ariano-suassuna-e-o-regime-autoritario-de-1964/), nunca são lembrados como aliados, por longo período, do regime autoritário; Guimarães Rosa, Carlos Heitor Cony e outros também são preservados.
A história da ditadura que ainda permanece hegemônica no Brasil se recusa a reconhecer as complexas relações que pautavam a sociedade brasileira, abordando-a como algo que veio de cima para baixo. Ora, houve muita colaboração, cumplicidade, idas-e-vindas, mudanças de rumo e de ideias. Muita coisa é ignorada e um outro tanto é silenciada. O desconhecimento de nossa história é imenso, mas há quem saiba e não fale ou escreva, por conveniência ou má-fé.
Pincei algumas personalidades da vida intelectual e política do Brasil que foram “esquecidos” como apoiadores e até agentes do golpe. Como o texto ficou excessivamente longo, preferi dividi-lo.
José Guilherme Merquior, diplomata e crítico literário e intelectual, foi um pensador liberal-conservador e anticomunista. Escreveu artigos defendendo o regime militar como uma resposta necessária à ameaça vermelha, embora posteriormente tenha se distanciado de posições mais extremadas. O sociólogo Gilberto Freyre, autor de clássicos como Casa-Grande e Senzala e Sobrados e Mocambos, teve relação ambígua com o regime. Embora não tenha sido um entusiasta declarado do golpe, sua visão conservadora sobre a sociedade brasileira e sua ênfase na harmonia racial foram instrumentalizadas pelo regime para promover uma imagem de democracia racial no país. O jurista e filósofo Miguel Reale foi uma figura importante na elaboração da doutrina autoritária do regime. Participou da comissão que redigiu o AI-5, marco do endurecimento da ditadura e que foi entregue ao governo pelo Ministro da Justiça Gama e Silva. Sua postura era alinhada à ideia de ordenar o país contra a desordem política.
Estes são sobejamente mencionados como fiéis apoiadores do golpe e da ditadura. Mas alguns outros…
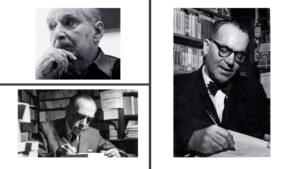
Um monstro sagrado da literatura nacional, Guimarães Rosa, nunca se pronunciou abertamente contra o regime autoritário. Sua relação com o regime foi, segundo estudiosos, ambígua. Sua postura foi discreta e ele evitou declarações públicas sobre a deposição de Jango, provavelmente por sua carreira no Itamaraty exigir certa neutralidade política – muito embora existam passagens em que demonstrou claramente alegria com a queda do herdeiro político de Getúlio Vargas.
Em correspondência mantida com o amigo Pedro Barbosa, amigo e tesoureiro da campanha de Magalhães Pinto ao governo de Minas Gerais, Guimarães Rosa exaltou o governador mineiro e festejou a derrota do “dragão perigoso e feroz”, metáfora que o escritor atribuiu ao comunismo: “Grande abraço. Viva. E glória a Minas Gerais, à nossa gente, boa, brava e certa, que todos aqui agora festejam, admiram e louvam. E ao nosso grande estadista Magalhães Pinto, ímpar no alto cenário, formidável; mas que nós já sabíamos que era o maior e melhor. Enfim, o dragão perigoso e feroz já está liquidado, podemos ter tranquilidade para trabalhar, produzir, viver”. Em outra, enviada ao embaixador Mário Calábria, pouco mais de uma semana após a consumação do golpe, demonstrou contentamento com a deposição de Jango, a quem chamou de louco: “Jango estava ‘dopado’ ou mais emburrecido ou louco? Graças a Deus. Porque: Quos Jupiter perdere vult, dementat prius (do latim, ‘Os deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem querem destruir’). Sabia eu que, sólido, São Paulo se achava moral e materialmente armado. E que Minas Gerais, inteira, em todas as suas cidades, cidadéculas, lugarejos e sertões, vibrava tensa, homens e mulheres prontos para brigar, se preciso, até à faca. Tinha informações constantes. Lá, desde meados de março, não se encontrava mais uma simples bala de revólver ou garrucha, nem um bago de chumbo de caça, para comprar. Todo o mundo calado, a postos, arregimentados os fazendeiros. Daí, meu conturbado estado de espírito”.
Em 1967, durante o governo do marechal Castello Branco, Guimarães Rosa foi empossado na Academia Brasileira de Letras (ABL). Dois anos antes, no entanto, segundo o professor Ivan Cavalcante Proença, foi “agraciado com o título de Comendador de Mérito Militar, em cerimônia no 2º Comando Militar do Sudeste, no Dia do Soldado, em 25 de agosto de 1965” e chegou a comparecer, em 1967, à posse de Costa e Silva. No mesmo ano, tornou-se membro do Conselho Federal de Cultura (CFC), o que alguns interpretam como um sinal de aproximação com o regime.
Registre-se que o CFC foi criado pelo governo militar em 1966, durante a Presidência de Castello Branco, para atuar como um órgão consultivo na formulação de políticas culturais. A atuação de Guimarães Rosa no CFC foi breve, pois ele faleceu no final de 1967.
No geral, a posição do escritor pode ser enquadrada como pragmática e discreta, certamente em virtude de sua formação diplomática e à sua preocupação em preservar a independência artística e intelectual.
Quem quiser conferir o que está acima exposto, leia Pequena biografia política de Guimarães Rosa, de Gustavo de Castro (https://www.scielo.br/j/rieb/a/LdRySfc5gGDj4hBLdZJpDNR/).
Otto Maria Carpeaux, crítico literário e historiador austríaco naturalizado brasileiro, declaradamente anticomunista, apoiou inicialmente o golpe, mas tornou-se crítico do regime após a implantação do AI-5, denunciando a censura e a violência estatal.
Carlos Heitor Cony, logo depois do golpe escreveu textos demolidores sobre o nascente regime reunidos O ato e o fato, volume de crônicas escrito e publicado em 1964, contendo exclusivamente textos de crítica ao regime militar brasileiro instaurado naquele ano. Dias antes, Cony escrevia, para o Correio da Manhã, descendo o sarrafo no governo de Jango. Depois, enfrentou galhardamente os censores e o esbirros do regime. A propósito, sobre o citado livro de Cony, Luís Fernando Veríssimo escreveu: “E de repente, depois do 1º de abril, ali estava aquele cara dizendo tudo que a gente pensava sobre o golpe, sobre a prepotência militar e a pusilanimidade civil, com uma coragem tranquila e uma aguda racionalidade que tornava o óbvio demolidor – e sem perder o estilo e a graça”.
Membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o professor de História e Filosofia Edmundo Moniz é apontado como um dos responsáveis pelos editoriais Basta! e Fora!, do Correio da Manhã, dois petardos desferidos contra o governo de Jango, às vésperas do golpe. Segundo Élio Gaspari, em A ditadura envergonhada, Edmundo Moniz, Osvaldo Peralva, Newton Rodrigues e Otto Maria Carpeaux eram “os quatro principais redatores de editorais do jornal. (…) Em julho de 1999, o jornalista Carlos Heitor Cony, contou-me que a base do editorial [Basta!], na sua primeira versão, foi manuscrita por Carpeaux. Submetida a Moniz, começou um processo de redação conjunta, da qual participaram ele, Cony, Carpeaux e Moniz. Cony informa que o tom do texto pode ser atribuído a ele e a Carpeaux. ‘Na boa técnica da produção dos editoriais, esse foi resultado de um trabalho coletivo. Entraram ideias de diversas pessoas. Um bom editorial, em termos de autoria, é coletivo como uma catedral gótica”. Em artigo publicado em 2002, na Folha de São Paulo, Cony tentou explicar quem escreveu o Basta! e o Fora!, atribuídos a Edmundo Moniz: “Elio realmente me perguntou sobre o assunto e eu disse o que sabia. O jornal vinha combatendo o governo de João Goulart, que entrava em decomposição, criando um cenário que poderia descambar numa guerra civil. (…) Na crise de 1964, os editoriais eram discutidos exaustivamente pela equipe liderada por Moniz e da qual faziam parte Otto Maria Carpeaux, Osvaldo Peralva e Newton Rodrigues, entre outros. Eu estava recém-operado, no meu apartamento em Copacabana, e Edmundo Moniz, que ia me visitar todos os dias, telefonou-me para comunicar que Carpeaux desejava pisar forte, com um editorial virulento contra Jango. O próprio Carpeaux sugerira que Moniz me consultasse, uma vez que nós dois éramos afinados, tanto em política como em literatura. Minha participação limitou-se a cortar um parágrafo e acrescentar uma pequena frase. Hora e meia mais tarde, Moniz telefonou-me outra vez, lendo o texto final que absorvia a colaboração dos editorialistas, e, embora o conteúdo fosse o piloto elaborado por Carpeaux, a linguagem traía o estilo espartano do próprio Moniz. Como disse ao Elio Gaspari, um bom editorial é obra coletiva como uma catedral gótica. Não expressa o pensamento de um indivíduo, mas o clima de uma época”.
O apoio de escritores e intelectuais ao golpe é frequentemente analisado como parte de uma aliança entre setores conservadores da sociedade e as Forças Armadas. Autores como Elio Gaspari (em sua série sobre a ditadura), Alfredo Bosi (Dialética da colonização) e Daniel Aarão Reis (Ditadura e democracia no Brasil) discutem como esse apoio foi crucial para a legitimação inicial do regime, mas também como muitos revisaram suas posições ao longo do tempo.
O envolvimento de escritores e intelectuais com o golpe reflete as divisões ideológicas da época, marcadas pelo anticomunismo, o medo de mudanças radicais e, em alguns casos, a adesão a projetos autoritários de modernização do país. A complexidade dessas posições revela como o regime autoritário de 1964 não foi um bloco monolítico, mas uma coalizão com profundas contradições internas.
Política e ideologicamente foi conveniente “esquecer”, mas “esquecer” é um atentado à História e marca indelevelmente negativa no historiador, formado justamente para lembrar aquilo que todos esquecem.
Em O casamento do Céu e do Inferno, o inglês William Blake questiona a visão tradicional de que Deus representa apenas o bem e o Diabo apenas o mal. Para ele, essa dicotomia é uma construção humana estreitamente limitada, pois o Inferno (ou a voz do Diabo) também tem um papel criativo e libertador, quase sempre suprimido pelos dogmas religiosos. Em certa parte da livro ele afirma: “Os escritores inspirados da Bíblia escreveram sob a influência do Espírito Santo; mas Milton escreveu O Paraíso Perdido a serviço do Diabo, sem saber”.
Não dá para escrever História calcado no binarismo que toma conta das narrativas sobre o golpe desferido em março/abril de 1964 e sobre o ciclo autoritário que perdurou, com nuances, por duas décadas. É necessário criticar qualquer narrativa unilateral. Ou como diria Blake, é necessário pontuar que nós ouvimos só uma versão da história, aquela contada em todos os livros escritos por Deus.