Como esquecer a ditadura de 64 – Parte 4
Em alguns dos textos que escrevi para a série sobre o golpe de 1964, cometi a imprudência de lembrar que certos intelectuais “acima de qualquer suspeita” estavam, sim, ao lado dos conspiradores que depuseram o Presidente João Goulart. Não todos, naturalmente. Mas alguns foram aliados de primeira hora. Outros preferiram o silêncio conveniente. Houve também os que se omitiam com elegância, enquanto o país virava de ponta-cabeça. Um punhado denunciava com tato e zelo – até desmedido.
Dois ou três leitores – de um total de cinco que estimo ter – protestaram, sem citar fontes criteriosas para defender os, digamos, acusados. É um velho conhecido da casa: o incômodo que acomete certos militantes, alguns travestidos de intelectuais, quando o ídolo revela fraqueza. Nada perturba mais que uma biografia dissonante.
Este texto acrescenta alguns dados – novos para uns, velhos para outros – sobre dois escritores frequentemente lembrados em discussões sobre omissão ou conivência com o golpe de 1964: Rubem Fonseca e Érico Veríssimo.
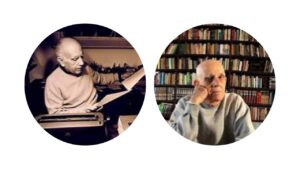
Antes de prosseguir, adianto: sou leitor e admirador de ambos.
Rubem Fonseca entrou no meu radar ainda adolescente, quando li Agosto, depois série na Rede Globo de Televisão.
Antes da literatura, Rubem Fonseca foi comissário de polícia. Depois, executivo do setor privado, na área de comunicação. No início da década de 1960, passou a prestar serviços ao Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), um dos tentáculos civis do golpe, financiado com a boa vontade e muito dinheiro dos Estados Unidos.
Sua vinculação com o instituto durou até o golpe (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/05/rubem-fonseca-pediu-demissao-de-orgao-que-apoiou-ditadura-dias-apos-golpe-de-64-indica-carta.shtml), ou talvez além. Há controvérsia. Um documento de 1965 mostra um dirigente lamentando a saída do escritor. Já outro, de 1968, o reconduz como conselheiro. Recibos encontrados nos arquivos do IPES indicam que ele colaborou financeiramente com a instituição até 1970. O IPES seria extinto dois anos depois.
O professor Luís Alberto Nogueira Alves, da UFRJ, é direto. Em Rubem Fonseca e o Golpe de 64: compromisso secreto com a ordem, escreve: “quando Fonseca ainda dava seus primeiros passos como escritor, ele já era um bem-sucedido homem de empresas (…) Menos conhecida ainda era sua participação em um famigerado Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (1962-72), que funcionava, na verdade, como uma fachada para esconder as atividades conspiratórias de uma seleta elite conservadora”. E conclui: “Fonseca participava também da conspiração que destituiu o governo constitucional de João Goulart ”.
René Armand Dreifuss confirma, em 1964: a conquista do Estado, que Rubem Fonseca, ao lado de Odylo Costa Filho, Raquel de Queiroz e Wilson Figueiredo, supervisionava os conteúdos do IPES, cuidando da linha ideológica. Era o controle editorial da conspiração.
Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Rubem Fonseca relatou sua versão: “No ato de fundação do IPES, a Assembleia Geral me escolheu como um dos diretores do Instituto. Toda a direção era composta de empresários que continuavam trabalhando em suas companhias e não recebiam remuneração pela sua colaboração. À medida em que crescia a rejeição ao governo João Goulart na classe média, em setores empresariais, eclesiásticos, militares e também na mídia, no IPES se desenvolveram duas tendências. Uma, fiel aos princípios que haviam inspirado a fundação do Instituto, manteve-se favorável a que as reformas de base por ele defendidas fossem implantadas através de ampla discussão com a sociedade civil, o governo e o parlamento; a outra passou a julgar a derrubada do governo João Goulart como única solução para os problemas políticos, econômicos e sociais que o país enfrentava. A eclosão do movimento militar solucionou, no que me concernia, a controvérsia existente entre as duas tendências dentro do Instituto. Eu afastei-me completamente do IPES e nunca me aproximei do novo governo, nem daqueles que o sucederam. Não era, como homem de empresa, nem sou agora, como escritor, favorável à ruptura da ordem constitucional em nosso país através de revoluções ou golpes de estado, militares ou civis.”
Do lado de Érico Veríssimo, a história é outra. Menos direta, mas não menos incômoda.
O autor de Incidente em Antares e da epopeia O Tempo e Vento, se não apoiou aberta ou envergonhadamente o regime de 1964, foi acusado pela esquerda de ser tímido nas suas declarações. Segundo Juremir Machado (https://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/erico-verissimo-e-o-regime-militar-1.297756), numa entrevista de 1963, Veríssimo condenou o stalinismo, como também o faziam “alguns espíritos autônomos e pencas de conservadores” e recusou “a ideia de revolução (de esquerda) no Brasil, alegando que seria o ‘caos, a fome e possivelmente o fim da unidade nacional’”, num momento em “que havia muita gente pregando ‘a revolução pela revolução’, sem saber o que viria depois”, uma fala que, “no contexto daquela época” era “claramente conservadora e antijanguista”. Mencionando entrevista dada pelo escritor a Clarice Lispector, admiradora da obra do gaúcho, que o questionara sobre o mal-estar dele com críticos e intelectuais, Juremir cita textualmente a resposta de Veríssimo: “Para começo de conversa, devo confessar que não me considero um escritor importante. Não sou inovador (…) Os esquerdistas sempre me acharam «acomodado». Os direitistas me consideram comunista”.
Na famosa entrevista que concedeu a Clarice Lispector, que o admirava, Érico Veríssimo explicou seu desconforto com a crítica intelectual: “Para começo de conversa, devo confessar que não me considero um escritor importante (…) Os esquerdistas sempre me acharam ‘acomodado’. Os direitistas me consideram comunista”.
Veríssimo criticava a censura e o autoritarismo. Acreditava que o novo regime precisava ser “hábil e justo”, e advertia contra a repressão ao setor cultural: “É uma estupidez equiparar crítica construtiva com subversão”. Temia tanto “uma ditadura de esquerda extremista” quanto o retorno de Jango e Brizola. E, nas suas palavras: “A prova de que não sou um homem não-engajado é que sempre houve a suspeita de que sou subversivo”.
No final dos anos 1960, em meio ao endurecimento do regime, Veríssimo sentia-se obrigado a reafirmar seu engajamento diante da barbárie. Mas, para os puristas – aqueles que exigem posições inequívocas, sem dúvida ou hesitação –, isso nunca bastava. Como observa Juremir Machado, “a suposta subversão passa a ser a evidência capaz de superar a suspeita do seu não-engajamento”.
Série Como esquecer a ditadura – Parte 1, 2, 3
https://historianosdetalhes.com.br/historia-do-brasil/como-esquecer-a-ditadura-de-64-parte-1/
https://historianosdetalhes.com.br/historia-do-brasil/como-esquecer-a-ditadura-de-64-parte-3/