Da Roma de Cícero ao Brasil de hoje: o civismo continua sendo nossa pedra no sapato
O humanismo, desde suas primeiras formulações, nasce como exaltação da dignidade do homem, e não apenas um conceito filosófico abstrato, afinal é uma experiência histórica que atravessa formas diversas de organização da vida coletiva. Entre suas vertentes, uma se mostra particularmente fecunda: o humanismo cívico, politizado, que afirma a dignidade humana no gesto compartilhado, na ação voltada para a cidade, terreno no qual liberdade e virtude se encontram como chaves de uma experiência política.
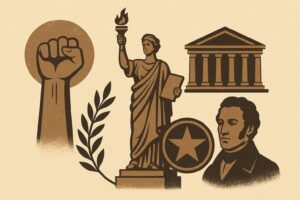
Imagem feita com auxílio de IA
Na Roma Antiga, esse humanismo se associa intimamente ao republicanismo – a res publica, e Cícero, em sua obra Da República, recorrendo a Platão mas adaptando-o ao contexto romano, coloca a virtude cívica como medida maior da condição humana. Não por acaso insiste na etimologia de vir e virtus: ser homem é cultivar a virtude. A forma de governo, segundo ele, molda a vida de um povo, e a república é superior porque repousa no bem comum e na submissão de todos à lei, concepção que atravessa os séculos, oferecendo às gerações posteriores uma chave para pensar a política como tarefa partilhada.
Com o passar do tempo, os nomes mudam, mas o fio permanece. De Maquiavel a Rousseau, de Montesquieu a Tocqueville, e chegando a Hannah Arendt, a reflexão sobre liberdade, vida pública e virtude cívica conserva-se como preocupação permanente. Não é casual que a modernidade, ao tentar redefinir o papel do indivíduo diante da coletividade, tenha visto no humanismo cívico uma tradição a ser retomada.
O nascimento moderno desse humanismo politizado remete a Florença dos séculos XIV e XV, quando, em meio a disputas de uma cidade inquieta, surge um núcleo de pensadores – Salutati (Coluccio Salutati), Bruni (Leonardo Bruni), Alberti (Leon Battista Alberti), Palmieri (Matteo Palmieri), humanistas e pensadores do Renascimento italiano, especialmente ligados ao chamado humanismo cívico, de Florença – dedicaram-se ao estudo da cultura clássica, à defesa dos valores republicanos e à vida pública, reabilitando a vida ativa como fundamento da existência, conforme exposto por Newton Bignotto em O humanismo e a linguagem política do renascimento: o uso das Pratiche como fonte para o estudo da formação do pensamento político moderno (https://www.scielo.br/j/ccrh/a/B6NJrFKN7FRxBsRcGpzMZ5G/?format=html&lang=pt).
Mais tarde, Nicolau Maquiavel, herdeiro maior desse espírito, resgataria, n’O Príncipe e principalmente e nos Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio, em chave realista e dura, a ideia republicana da virtude. A política não era mera contemplação, mas ofício que exigia engenho, coragem e a capacidade de moldar instituições à altura das circunstâncias.
Essa postura representava ruptura com a tradição medieval. Santo Agostinho, em sua Cidade de Deus, via o poder terreno como reflexo da vontade divina, instituído para conter os desmandos do pecado. A vida contemplativa, nesse quadro, era superior; a política, necessidade menor. O humanismo cívico inverte essa hierarquia: a vida ativa passa a ser considerada o espaço mais nobre do homem. A política, nesse sentido, não é um fardo, mas a expressão da liberdade. Hannah Arendt diria, séculos depois, que é na esfera pública que o homem se afirma como capaz de milagres – não por fé religiosa, mas porque, ao agir em conjunto, realiza o improvável e o imprevisível.
Esse elogio da vida ativa conduz diretamente à noção de virtude cívica. O bem maior não está em salvar a própria alma ou cultivar a interioridade, mas em servir à cidade. Palmieri, seguindo Cícero, insistia que nenhuma obra humana é mais elevada do que conservar a polis e unir os cidadãos contra as ameaças que a corroem. Em Maquiavel, a virtù assume nova tonalidade; não apenas disposição moral, mas capacidade prática de agir conforme as circunstâncias. Para ele, a liberdade de uma cidade estava ligada ao vigor de suas leis e instituições, muitas vezes nascidas dos próprios conflitos entre aristocratas e povo. O choque das vontades, longe de ser maldição, era condição de vitalidade republicana. Se para humanistas anteriores a paz era a base da boa ordem, Maquiavel via na tensão e no confronto o berço das melhores leis. O verdadeiro legislador – fosse príncipe ou povo – deveria estar animado não pelo interesse próprio, mas pela pátria comum.
Montesquieu, séculos depois, em O Espírito das Leis, Cartas Persas e Considerações sobre as causas da grandeza dos Romanos e de sua decadência, reafirmaria em nova chave essa conexão entre virtude e república. Enquanto a monarquia se movia pela honra e o despotismo pelo medo, apenas a república tinha na virtude – entendida como amor à pátria e espírito público – o seu motor legítimo. A virtude, aqui, deixa de ser atributo apenas individual e torna-se paixão política, cimento da vida coletiva. Esse civismo revelava-se como substância mesma do republicanismo.
Ao lado da virtude, a liberdade ocupa lugar central. Para Bruni, Florença e Roma demonstravam que um povo é grande quando é livre para governar-se, e se corrompe quando privado dessa liberdade. Entre os humanistas, liberdade não era ausência de constrangimentos – como diriam os liberais modernos –, mas autodeterminação de uma comunidade política. A diferença não é pequena. Enquanto Stuart Mill (Sobre a liberdade e Utilitarismo) e Benjamin Constant (Princípios de política aplicáveis a todos os governos e A liberdade dos antigos comparada à dos modernos) definiam liberdade como esfera protegida do indivíduo, os republicanos a viam como possibilidade de participar diretamente do governo da cidade. Para que isso ocorresse, três condições eram indispensáveis: república como forma de governo, leis que garantissem a igualdade e educação cívica capaz de cultivar a virtude.
Na modernidade, contudo, o humanismo cívico enfrentou novas tensões. O liberalismo, com seu foco no indivíduo e no mercado, promoveu apatia política e relegou a coisa pública a plano secundário. A política passou a ser entendida como disputa de interesses privados mediados pelo Estado, e a república, reduzida ao constitucionalismo formal. O desafio contemporâneo consiste em recriar arena pública que restitua aos cidadãos a experiência de agir em comum. Hannah Arendt lembrava, em Crises da república, Liberdade para ser livre, Desobediência civil e A Condição Humana, que a esfera pública só se realiza plenamente quando há possibilidade de diálogo na diversidade, quando as diferenças se explicitam e se confrontam. Ao mesmo tempo, advertia para o perigo de que a retórica do bem comum servisse de pretexto a regimes totalitários.
Tocqueville oferecia alternativa, em A Democracia na América e O Antigo regime e a revolução, ao buscar conciliar interesse individual e vida coletiva. Em sua teoria do “interesse bem compreendido”, mostrou como os cidadãos norte-americanos, no século XIX, eram capazes de se envolver em assuntos públicos sem abandonar cuidados com o bem-estar próprio. Esse interesse esclarecido, ainda que não conduzisse à virtude dos antigos, criava hábitos de cooperação e solidariedade, permitindo que se sacrificasse uma parte dos interesses particulares para salvar o resto. Assim modernizou a noção de virtude, adequando-a às sociedades democráticas de seu tempo.
No Brasil, entretanto, a tradição cívica encontrou terreno árido. Como assinala José Murilo de Carvalho, em obras clássicas como A construção da ordem: a elite política imperial, Teatro de sombras: a política imperial, A formação das almas: o imaginário da república no Brasil e Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi, a política foi vista, em larga medida, como assunto de elites, alheio ao cidadão comum. A apatia, a exclusão da maioria da vida pública e o desinteresse pelo bem comum têm raízes profundas. De seus trabalhos emerge o retrato de uma cidadania formal e pouco afeita à vida política efetiva.
Nesse terreno, o radicalismo contemporâneo cresce como praga. Em vez de estimular a participação pública, reforça a lógica da exclusão, da polarização e da violência simbólica. O adversário deixa de ser interlocutor e passa a ser inimigo. A esfera pública, que deveria ser lugar de convivência plural, converte-se em trincheira. A política se transforma em guerra.
Esse radicalismo não é exclusivo do Brasil, mas aqui encontra terreno peculiar. A nossa tradição de personalismo, ausência de costumes republicanos e fragilidade institucional tornam-no mais destrutivo. Faltam hábitos de cooperação e confiança e, aí, o conflito degenera em hostilidade sem retorno. A liberdade é confundida com licença para afirmar a própria vontade, ainda que implique negar o espaço alheio. O bem comum se fragmenta em bens exclusivos, cada grupo reivindicando sua parcela como propriedade particular. O espaço público se esvazia, restando apenas a exibição de forças irreconciliáveis.
A lógica das redes sociais exacerba o problema. A velocidade dos boatos e a economia do escândalo substituem o argumento pela acusação. É a política da paixão exacerbada, que dispensa paciência e reflexão. A virtude cívica, entendida como disposição para colocar o bem público acima do interesse imediato, desaparece. Em seu lugar, triunfa o grito, a agressividade, a fidelidade cega a líderes carismáticos. A cidade, que deveria ser espaço do comum, fragmenta-se em tribos e seitas.
Não se deve ignorar que esse radicalismo se ancora em raízes antigas. Sérgio Buarque de Hollanda, em Raízes do Brasil, já notava o predomínio do homem cordial, cuja afetividade inviabilizava práticas republicanas impessoais. Em sociedades de base patrimonialista, a política se confundia com favores e lealdades privadas. O público era extensão do privado. O radicalismo atual apenas exacerba esse traço; em vez de instituições fortes, vê-se a devoção a pessoas. A lealdade não é à lei, mas ao chefe.
As consequências para a democracia são graves. A confiança nas instituições se esvai, os mecanismos de mediação perdem legitimidade e a tentação autoritária retorna. A democracia, reduzida a plebiscito permanente, torna-se contagem de forças. Não há compromissos, pois comprometer-se é trair. A lógica da negociação cede à lógica da imposição.
E, no entanto, há sinais de resistência. A emergência de ONGs, associações civis, experiências de orçamento participativo e conselhos municipais, ainda que marcados por limites, abriram canais de participação. Maria Victória Benevides insiste, em Cidadania e democracia (https://www.scielo.br/j/ln/a/LTSGRTDqFD4X74DxLsw9Krz/?lang=pt), na necessidade de mecanismos de democracia semidireta – plebiscitos, referendos, iniciativas populares – como forma de educar civicamente o cidadão. Sérgio de Azevedo, em Orcamento Participativo – Construindo a Democracia mostra seus ganhos pedagógicos: ao discutir alocação de recursos, o cidadão aprende a pensar a cidade para além de seus interesses imediatos.
Essas experiências revelam como setores organizados da sociedade civil podem influir na formulação de políticas públicas, ainda que enfrentem obstáculos significativos: dependência da boa vontade governamental, dificuldade técnica, fragilidade da mobilização. São promessas incertas, mas necessárias. Tocqueville lembrava que o amor à pátria nasce das luzes, desenvolve-se com o auxílio das leis e cresce no exercício do direito. Cada gesto de cooperação, cada espaço público conquistado, representa passo nesse caminho.
O risco maior, contudo, é a indiferença. Se muitos já viam a política como distante, a radicalização pode reforçar a tentação de afastar-se ainda mais. Mas a apatia não é alternativa. Quando cidadãos se retiram, abrem espaço para poderes centralizados. O resultado é a perda da liberdade. O radicalismo, de um lado, e a indiferença, de outro, convergem: ambos inviabilizam o humanismo cívico, um por excesso de paixão destrutiva, outro por ausência de participação.
Em última análise, o humanismo cívico permanece como horizonte normativo. Ele recorda que a dignidade humana não se cumpre na solidão do indivíduo, mas na vida em comum, na construção de instituições que resguardem a liberdade e promovam o bem de todos. O Brasil, com sua história de exclusões, encontra nessa tradição não apenas espelho de suas carências, mas roteiro possível para o futuro. Radicalismos de qualquer natureza ameaçam esse horizonte ao impor a lógica da exclusão. Retomar o humanismo cívico significa recusar tanto a violência sectária quanto a indiferença, afirmando que a política só faz sentido quando partilhada.