Coronelismo e coronéis (3)
A participação política não mudou muito com o advento da República, porquanto liberais do Império e da República não serem muito diferentes. Ambos estavam amarrados a um liberalismo de representação limitada e restritiva, distantes daquilo que preconizava um John Stuart Mill.
O que se fazia no Brasil era um liberalismo aquém do conservadorismo, em grande medida por que o cenário, considerando-se a heterogeneidade de tipos sociais na composição da população, não favorecia a expansão das ideias de participação política. Quatro em cada cinco pessoas eram escravos, trabalhadores rurais dependentes, agricultores e pastores que viviam da economia de subsistência e muito poucos eram ocupantes de outras funções, nas poucas brechas abertas ao trabalho livre.
A cultura política era profundamente marcada pelo tradicionalismo ibérico, no qual prevalecia a noção que o bem comum não era assunto para a opinião da maioria. Daí nasceu uma das restrições ao exercício da cidadania, com a criação da democracia censitária do período monárquico, quando os eleitores eram selecionados pela renda e pela posse de propriedade. Prevaleceu o conceito de homem livre, detentor do direito de participação política, que vigorava na polis grega, segundo o qual homem livre é somente aquele que tem a condição de proprietário, com renda assegurada pelo trabalho dos outros, postura que não estava muito distante do pensamento de liberais como Kant, quem o trabalhador assalariado não poderia ser membro do Estado, pois subsiste da venda de seu trabalho. E sem uma base de propriedade, não seriam independentes o bastante para o exercício dos direitos políticos, não se qualificando, portanto, para serem cidadãos, bem de acordo com os preceitos de grande dos pensadores dos séculos XVII, XVIII e mesmo do século XIX, que viam uma conexão íntima entre a propriedade e a liberdade, razão pela qual argumentam que as funções das leis não são prioritariamente garantir direitos, mas proteger a propriedade; era ela, a propriedade, e não a lei propriamente dita, que assegurava a liberdade.
A proclamação da República não mudou quase nada a percepção que os grupos dominantes tinham da população livre. Por isso, prevaleceu na Constituição de 1891 o compartilhamento de valores que negavam a igualdade entre os homens – herança de uma sociedade escravocrata e excludente, segundo os quais os atinham-se, no seu artigo 72, basicamente, aos direitos individuais, conforme expõe Aliomar Baleeiro, em Constituições Brasileiras: 1891.
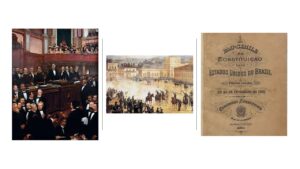
Quanto aos direitos políticos, a Constituição incluía a liberdade de associação e de reunião e o direito de voto, talvez o mais importante dos direitos políticos, retirando a exigência de propriedade, mas excluindo analfabetos, mulheres, mendigos, praças militares, religiosos regulares, cuja consequência era deixar no limbo toda e qualquer ação visando à construção do processo de participação dos cidadãos no exercício do poder.
No artigo 68, a Constituição determinava, segundo Aliomar Baleeiro, como os estados se organizam “de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse”, pressuposto essencial para que se entenda o alcance do poder dos coronéis, os quais, aliados às oligarquias estaduais, representadas principalmente pelos governadores, costuraram uma intensa rede de favores junto ao governo federal, estabelecendo, com diz Victor Nunes Leal, uma rede de compromissos que resultou numa “troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente senhores de terras. (…) Desse compromisso fundamental resultam características secundárias do sistema “coronelista”, como sejam, entre outras, o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos serviços públicos locais”.
Para entender a relação que se estabelecia entre governadores e coronéis, é necessário saber que no coronelismo não bastava ganhar a liderança, era preciso também saber mantê-la. Citanto João Neves da Fontoura, Raymundo Faoro, em Os donos do poder, exemplifica a ação de conquista de votos: “Era preciso convencer um por um, doutrinar os mais empedernidos, dar exemplos de dedicação. A proximidade das eleições levava-o a percorrer o município inteiro. Quase casa por casa (…). Na proximidade dos pleitos, a primeira reação do eleitor era um grito de independência, um retraimento calculado, uma valorização do seu voto. A primeira casa, a que chegamos, estava fechada. Hora de trabalho ou sesta. (…) Afinal abriu-se uma janela, aparecendo uma senhora. (…) Meu pai saudou-a como chapéu e perguntou pelo marido. Ela correspondeu ao cumprimento e, voltando-se para dentro, exclamou em tom alto para que ouvíssemos suas palavras: ‘Fulano tem visitas; chegou o tempo dos ricos andarem incomodando os pobres’. Não tardou o dono da casa a vir ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Meu pai conversou sobre a chuva e o bom tempo, e depois abordou o visitado, pedindo-lhe sua coadjuvação no pleito próximo. Nessa altura inevitavelmente começava um rosário de queixas: o pontilhão da estrada do fundo que se achava em mau estado, o imposto sobre veículos que tivera de pagar com multa, o inspetor que não viera a chamado quando os porcos do vizinho invadiram o cercado. E assim por diante. A paciência necessária para fazer face a tudo isso, o bom humor para escutar reclamações improcedentes, os gastos de energia para conquistar o eleitor – eis uma porção de virtudes de que precisava dispor um chefe local”.
Não era, portanto, só chegar e arrebanhar o eleitor que estava no cercado.